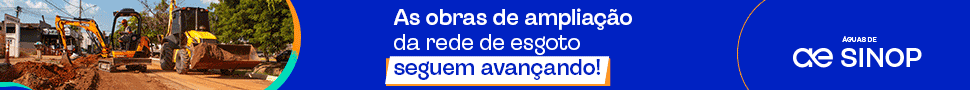O arranjo institucional brasileiro nascido da Constituição de 1988 é, simultaneamente, um marco civilizatório e uma armadilha estrutural. Civilizatório porque consolidou direitos e estendeu o alcance social do Estado; armadilha porque cristalizou uma arquitetura fiscal e política que estimula a expansão contínua do gasto público, sem contrapartida equivalente em eficiência ou produtividade. A Constituição não desenhou um Estado de resultados, mas um Estado de promessas. Desde então, o sistema político tornou-se um mecanismo que, por design, busca incessantemente novos lugares para gastar — o “seu, o meu, o nosso” —, e não para produzir, avaliar e priorizar. Governar, no Brasil, raramente significa administrar restrições; significa ampliar dotações. É o oposto da racionalidade orçamentária clássica.
Na teoria econômica, o equilíbrio fiscal pressupõe que o Estado maximize o bem-estar social sob restrições de recursos, tal como uma firma ou família racional deve maximizar sua utilidade sob orçamento limitado. Essa lógica, trivial para qualquer gestor econômico, é frequentemente ignorada pela política brasileira, que atua sob a crença quase metafísica de que o gasto público é em si mesmo um bem. A economia política do país opera, portanto, sob um modelo de “fiscal dominance social” — em que o impulso político do gasto condiciona o resto da política macroeconômica. Quando o gasto cresce independentemente da produtividade, o Banco Central é forçado a compensar com política monetária restritiva, elevando juros para conter pressões inflacionárias. Controla-se a inflação, sim, mas ao preço de um crédito caro, investimento reprimido e crescimento pífio.
Desde 1988, o Estado brasileiro vem ampliando a presença em todos os domínios: previdência, saúde, educação, subsídios, transferências, incentivos e burocracia. Nenhum desses eixos, isoladamente, é ilegítimo — o problema é o conjunto. O resultado é uma máquina pública cuja expansão orçamentária ultrapassou em muito a expansão do PIB e que, paradoxalmente, entrega pouco em termos de eficiência. A teoria do “governo maximizador de orçamento”, de William Niskanen, encaixa-se perfeitamente aqui: cada setor do Estado busca maximizar seus recursos e pessoal, não o resultado social final. Essa tendência autoexpansiva, sem controles internos de produtividade, gera uma entropia institucional — quanto mais se gasta, menos se entrega, e mais justificativa há para gastar ainda mais.
O sistema político, por sua vez, reforça esse mecanismo. A fragmentação partidária e o presidencialismo de coalizão criam um mercado de apoio parlamentar em que o gasto público se torna moeda de troca.
O economista político Barry Weingast descreve esse tipo de ambiente como “universalismo orçamentário”: todos os grupos buscam aprovar seus projetos e emendas sem vetar os alheios, pois todos dependem do mesmo mecanismo distributivo. O resultado é o crescimento cumulativo e inercial das despesas. Ninguém é dono da austeridade, mas todos são sócios da prodigalidade. E o mais grave: não há uma “bancada do Erário”, ninguém que defenda o contribuinte, o equilíbrio fiscal ou a eficiência do gasto.
Com o tempo, a ausência de freios internos transforma o Estado em um ente extrator, não num promotor de desenvolvimento. A economia política institucional ensina que, quando as elites políticas são capazes de apropriar renda pública em vez de competir por eficiência, o sistema torna-se rent-seeking. O Brasil vive sob esse regime: elites burocráticas, empresariais e partidárias competem por privilégios e não por produtividade. O Estado, que deveria ser o árbitro, é o campo de disputa. Assim, o país converteu-se em uma economia de transferência e não de produção. Em vez de inovar, distribui. Em vez de investir, compensa. Em vez de crescer, redistribui déficits.
A literatura sobre patrimonialismo e populismo explica parte dessa persistência. O Estado patrimonial brasileiro — que data da Colônia e foi refinado pela República — confunde o público e o privado, transformando cargos em propriedade política e recursos em extensão de poder pessoal. O populismo fiscal, por sua vez, nasce dessa fusão: cada governo promete benefícios sem cobertura financeira de longo prazo, pois a racionalidade eleitoral é imediatista. O voto é conquistado pelo gasto, não pelo resultado. Nesse ambiente, qualquer tentativa de austeridade é lida como “neoliberalismo cruel”, quando, na verdade, é mero reconhecimento da restrição orçamentária. O populismo fiscal tornou-se o DNA do Estado brasileiro.
O resultado econômico é uma armadilha de médio crescimento. Desde os anos 1990, o PIB brasileiro alterna picos de euforia e vales de recessão, sempre interrompidos por crises fiscais e cambiais. O padrão é recorrente: o governo gasta além do possível, a inflação pressiona, a política monetária reage com juros altos, o crédito retrai, o investimento cai — e o ciclo recomeça. É a materialização do que economistas chamam de doença fiscal crônica, uma espécie de “síndrome de déficit dependente”. A macroeconomia brasileira vive subordinada à política fiscal indisciplinada, e o Banco Central atua como o bombeiro de um incêndio permanente. O preço dessa contenção é altíssimo: crédito caro, produtividade reprimida e estagnação crônica.
Na teoria da escolha pública, James Buchanan alertava que democracias sem instituições de controle fiscal efetivo tendem ao excesso de gasto porque o benefício político é concentrado e o custo é difuso. O Brasil é o exemplo empírico exato desse teorema. A Constituição de 1988 criou múltiplos direitos e vinculações, mas não gerou contrapesos proporcionais. Assim, o sistema de incentivos político-fiscal conduz, inevitavelmente, ao sobrepeso do Estado. Governar, aqui, é extrair.
E cada tentativa de reforma — administrativa, previdenciária, tributária — é recebida como ameaça, pois atinge interesses arraigados que sustentam a própria lógica de poder.
Esse arranjo cria um paradoxo de difícil superação: a economia brasileira é rica em recursos naturais, humanos e produtivos, mas pobre em coordenação e eficiência institucional. O país não é subdesenvolvido por falta de riqueza, mas por excesso de Estado improdutivo e sistema político voltado à manutenção do gasto. O capital humano, a base produtiva e o mercado interno poderiam sustentar taxas de crescimento robustas; no entanto, o sistema fiscal e político atua como trava. O Estado consome a energia econômica que deveria liberar. E como a produtividade é baixa, o crescimento potencial é reduzido, levando o Banco Central a ter de controlar a inflação pelo freio do juro, não pelo estímulo à eficiência.
Em termos macroeconômicos, o resultado é perverso: um Estado hipertrofiado financia sua expansão com tributação alta, endividamento crônico e juros elevados. O esforço fiscal drena o setor privado, que responde com baixo investimento. E, como o gasto público não se traduz em produtividade, o multiplicador fiscal torna-se baixo. Assim, o crescimento médio oscila entre picos e vales, com tendência medíocre. Cada ciclo de expansão é abortado por gargalos fiscais, cada tentativa de estabilidade exige sacrifícios monetários brutais. Controla-se a inflação à custa de paralisar a economia. O país paga a estabilidade com estagnação.
A conclusão é dura, mas inevitável: o Brasil é um país rico que escolheu crescer como pobre. Seu sistema político-institucional transformou a despesa pública em fetiche e a gestão fiscal em tabu. O Estado tornou-se uma máquina de gasto e autoproteção, enquanto o setor produtivo carrega o peso de sustentar uma estrutura que entrega pouco. Entre o populismo fiscal e a política monetária de contenção, o país se arrasta: cresce mediocremente, oscila entre euforia e recessão e paga o preço de uma estabilidade conquistada pelo sufocamento da economia real. A tragédia é que, dado o potencial nacional, essa mediocridade não é inevitável — é institucionalmente fabricada.
André Eduardo Fernandes é economista formado pela Universidade de Brasília (UnB) e consultor do Senado Federal
* A opinião do articulista não reflete necessariamente a opinião do PNB Online